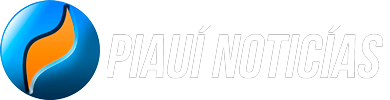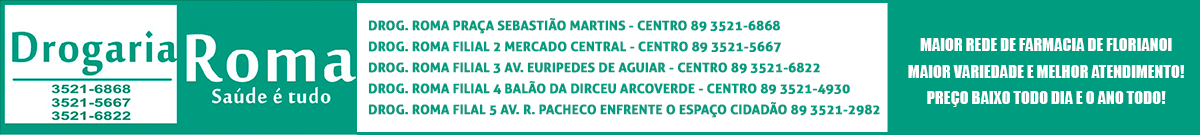Quem nunca foi pegar um alimento no armário e se deparou com a data de vencimento extrapolada? A situação é ainda pior quando o ingrediente em questão era o que faltava para a receita que já estava sendo preparada. E é nesse momento que surge aquela dúvida: será que faz mal usar o produto vencido, ainda que há pouquíssimos dias?

Para saber a resposta, o MinhaVida entrou em contato com a Nathália Guimarães, nutricionista do Instituto Nutrindo Ideais, que explicou porque, de modo geral, não devemos comer alimentos fora do prazo de validade.
“As datas de validade são determinadas através de testes científicos com base no crescimento microbiano, degradação de nutrientes, alterações sensoriais, controle de temperatura e tipo de embalagem utilizada. Após essa data, o alimento pode ter pior qualidade devido à deterioração das propriedades do alimento, desenvolver bactérias nocivas ou perder seu valor nutricional”.
O que pode acontecer quando se come alimentos vencidos? O consumo de alimentos fora do prazo de validade pode levar a intoxicação alimentar, que gera diferentes sintomas como:
Náuseas Vômitos Diarreia Febre
A especialista alerta que em casos mais graves, a intoxicação causada pela ingestão de alimentos vencidos pode levar à hospitalização e ao óbito.
Os alimentos que costumam vencer rapidamente
Produtos lácteos: “pois têm um teor de proteína que é um bom meio de cultivo para a ação bacteriana. Normalmente, produtos lácteos duram uma semana na geladeira após abertos”;
Carnes frescas: “porque também tem validade curta. Depois que os pacotes de peru fatiado ou presunto fatiado são abertos, por exemplo, duram no máximo cinco dias”;
Vegetais vendidos fatiados e embalados em plástico: “como cogumelos ou pimentões, podem ser convenientes, mas, na verdade, tendem a estragar mais rápido. Eles acabam tendo metade do tempo de validade normal”;
Molho de tomate: “antes de ser aberto, ele é um campeão de prazo de validade. Sua alta acidez pode preservá-lo bem por mais de um ano – enquanto ainda está selado. Mas depois de aberto, ela dura apenas de três a cinco dias (mesmo na geladeira)”.
Nathália destaca também que existem alimentos específicos que podem ser consumidos poucos dias após o prazo de validade.
“Macarrão seco (desidratado), arroz cru do tipo branco, selvagem, arbóreo, jasmine e basmati, feijão cru, grão-de-bico cru e lentilha crua, leite em pó tem prazos bem maiores do que estipulados nos rótulos das embalagens se mantidos em local seco sem umidade. Assim como chás e ervas secas, melado de cana e mel”.
Os alimentos que não têm prazo de validade
Em relação a prazo de validade, com alguns alimentos não devemos nos preocupar tanto. A nutricionista lista 7:
1 - Feijões e leguminosas (secos e guardados em local sem umidade) “Mas quanto mais velho for o feijão, mais tempo ele precisará ficar de molho e mais tempo demora para cozinhar”.
2 - Mel (cru) “O teor alto natural de açúcar, a alta acidez e baixa umidade garantem que o mel dure para sempre. Mas, pode cristalizar com o tempo, se isso ocorrer, basta colocar o frasco em uma panela com água morna”.
3 - Sal “O sal não iodado (como o sal marinho natural) dura para sempre. Mas mesmo o sal de mesa iodado tem uma vida útil bastante longa — cinco anos”.
4 - Especiarias (secas) “Eles perderão seu aroma e sabor com o tempo, mas são seguros para comer indefinidamente”.
5 - Açúcar “Incluindo açúcar granulado, açúcar de confeiteiro e açúcar mascavo. O açúcar não estraga em termos de deterioração ou mofo, mas pode se degradar em qualidade e sabor. O açúcar vencido é seguro para comer, desde que seja bem armazenado”.
6 - Vinagre “A data de validade refere-se principalmente à diminuição do seu nível de acidez, tornando-o menos potente e eficaz, mas não menos seguro de consumir”.
7 - Extrato de baunilha (puro) “Tem validade indeterminada, porém começa a perder o aroma com o passar dos anos, mas ainda será um alimento seguro para ser ingerido”.
Minha Vida
Foto: © FG Trade/GettyImages