 Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Chile revelou nesta sexta-feira que a vacina Pfizer/BioNTech mantém a positividade de seus anticorpos IgG acima de 90% após 20 semanas de sua aplicação, enquanto com a CoronaVac uma queda progressiva em torno de 40% é observada neste período.
Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade do Chile revelou nesta sexta-feira que a vacina Pfizer/BioNTech mantém a positividade de seus anticorpos IgG acima de 90% após 20 semanas de sua aplicação, enquanto com a CoronaVac uma queda progressiva em torno de 40% é observada neste período.
O relatório incluiu os dados de 64.813 pessoas avaliadas até 2 de julho de 2021, e entre os principais resultados também mostrou que a positividade geral de IgG para vacinados com a CoronaVac atingiu 77% após as duas doses, enquanto que uma única dose da referida vacina produziu baixa níveis de positividade para IgG, com 28,1%.
Enquanto isso, a soropositividade em receptores da vacina Pfizer/BioNTech ultrapassou 95% após duas doses e 80% após uma dose da vacina.
Ao contrário do que ocorre com estudos que analisam o desempenho da vacina em termos de casos e sua gravidade, esta análise investigou a evolução ao longo do tempo dos anticorpos em nível populacional+
Ao aplicar testes rápidos para detecção de anticorpos IgG contra SARS-CoV-2, o estudo identificou a dinâmica destes com o decorrer do tempo desde a inoculação da primeira e segunda doses, nos dois tipos de vacinas que são usadas no Chile.
Os resultados mostram que "tanto as pessoas que receberam as vacinas Sinovac [CoronaVac] quanto as que receberam Pfizer tiveram uma resposta muito robusta à IgG medida pelo teste do dedo dentro de duas semanas da segunda dose", disse um dos pesquisadores, o acadêmico da Faculdade de Medicina da Universidade do Chile Miguel O'Ryan, em um comunicado.
“Devemos ter muito cuidado com a interpretação porque isso não significa que as pessoas que receberam Sinovac ao longo do tempo estejam necessariamente desprotegidas, porque estamos medindo apenas um elemento da resposta imunológica contra o vírus e com uma técnica”, acrescentou o acadêmico.
Os dados "fornecem mais evidências para sugerir que um reforço vacinal, fundamentalmente no caso do Sinovac", continuou o especialista, além de mostrar que a vacinação com duas doses de Pfizer mantém níveis elevados de anticorpos IgG até 20 semanas após a segunda dose.
O estudo, realizado em colaboração com autoridades de saúde, foi publicado no periódico científico The Lancet Infectious Diseases e é uma das primeiras comparações populacionais no mundo entre as duas vacinas, desenvolvida sob as perspectivas da mobilidade e da epidemiologia.
O ministro da Ciência do Chile, Andrés Couve, destacou que os resultados foram um elemento fundamental para a decisão de aplicar a dose de reforço no país, que vem sendo feita desde 11 de agosto passado para idosos de 55 anos vacinados com a CoronaVac.
Até agora, já chegaram ao Chile mais de 35,7 milhões de vacinas, a maioria do laboratório chinês Sinovac (quase 23,6 milhões) e em menor medida também da Pfizer/BioNTech, da chinesa CanSino e da anglo-sueca AstraZeneca.
Mais de 87% da população-alvo que pode ser vacinada (15,1 milhões dos mais de 19 milhões de habitantes do país) já completou o esquema vacinal.
Graças a esse programa de vacinação bem-sucedido, o país está com a pandemia sob controle há dois meses e no momento o número de pacientes ativos é de 3.156 pacientes em todo o país, enquanto o índice de positividade — número de casos positivos por 100 mil testes de PCR — está abaixo 1%.
A população recuperou parcialmente a normalidade e goza de mais liberdade do que nunca desde a chegada do vírus: todos os bairros do país abandonaram a quarentena total e reabriram cinemas, teatros e centros esportivos nas últimas semanas.
Apesar de a pandemia ter recuado para níveis nunca vistos desde a chegada do vírus, as autoridades mantêm o toque de recolher da 0h às 5h e o fechamento das fronteiras para turistas desde abril passado.
Agência EFE
Foto: SERGEY DOLZHENKO/EFE
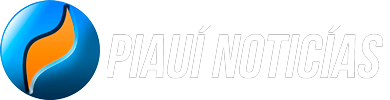



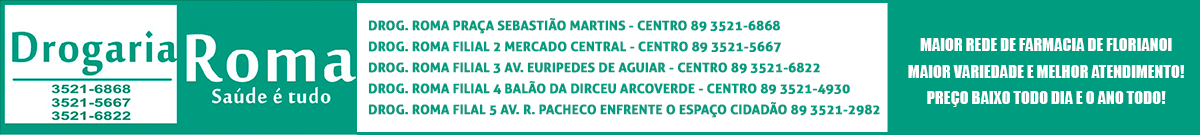









 O estado do Piauí recebeu 51.520 doses de vacinas contra a Covid-19, na tarde desta quinta-feira (09). Foram enviadas pelo Plano Nacional de Imunização 32.800 CoronaVac/Butantan e 18.720 Pfizer/BioNTech.
O estado do Piauí recebeu 51.520 doses de vacinas contra a Covid-19, na tarde desta quinta-feira (09). Foram enviadas pelo Plano Nacional de Imunização 32.800 CoronaVac/Butantan e 18.720 Pfizer/BioNTech. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu, nesta quarta-feira (8), autorização de uso emergencial de mais um anticorpo monoclonal para ser usado no tratamento de covid-19: o sotrovimabe.
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) concedeu, nesta quarta-feira (8), autorização de uso emergencial de mais um anticorpo monoclonal para ser usado no tratamento de covid-19: o sotrovimabe. O Ministério da Saúde enviou ao Piauí 67.200 doses de vacina Coronavac/Butantan no domingo(05); 15.210 doses da vacina Pfizer/BioNTech chegaram na tarde de segunda-feira(06) e mais 32.270 doses da vacina Pfizer estão chegando ao estado na tarde do feriado de terça-feira(07).
O Ministério da Saúde enviou ao Piauí 67.200 doses de vacina Coronavac/Butantan no domingo(05); 15.210 doses da vacina Pfizer/BioNTech chegaram na tarde de segunda-feira(06) e mais 32.270 doses da vacina Pfizer estão chegando ao estado na tarde do feriado de terça-feira(07).